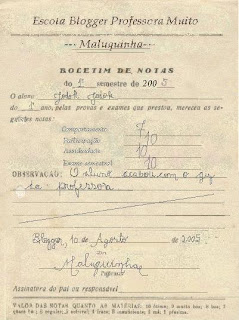Aproximei-me, observei, não consegui controlar o nozinho qu nascia ali pelo meio da garganta. O pé da árvore não é um bom lugar: é lá que juntam as folhas varridas na rua, largam o lixo da casa e o dos vizinhos -que em sinal da mais pura solidariedade compartilham o local- colchões furados, caixas de papel usado, tralhas e trecos já sem utilidade. E nesse local tão triste abandonaram o elefante branco, que fui encontrar cabisbaixo e conformado com sua sina de lixo. Em breve passaria o caminhão da Comlurb ou qualquer interessado em recolher tralhas postas fora.
E ali estava o elefante branco.
Olhei para trás, para os lados, perscrutei a rua inteira, e certa de que ninguém me observava, acariciei de leve o velho elefante. Há quanto tempo não passava os dedos por suas enormes orelhas de elefante! O elefante branco chegou em casa há muitos anos, não posso definir quantos, mas certamente estava aqui antes de minha chegada. Enorme peça de louça, trabalhada artisticamente, é réplica perfeita de um elefante indiano- aliás, foi o único elefante indiano que vi tão bem visto até hoje. Em minha imaginação, pertencera certa vez a nobre príncipe indiano, como atestam os ricos tecidos coloridos que descem majestosamente por suas costas enormes, as argolas de ouro que enfeitam a barra do manto, as pedras preciosas que brilham na ponta de cada um de seus magníficos dentes de marfim.
De ouro e marfim, mas de louça; dourado e colorido, mas branco. Como deve ser um elefante de louça branca. Branco.
O elefante branco cresceu comigo, embora tenha permanecido sempre da mesma altura. Cresceu comigo e com meus irmãos, acompanhando a história da família. Ora alegre, ora triste, ora animada, ora monótona, ora isso, ora aquilo. Mais hora, menos hora, o elefante haveria de sofrer algo, nós sabíamos. Foi um amigo e confidente silencioso. Pacientemente, em sua calma de elefante, permitia sempre que alguma criança retirasse o telefone instalado em suas costas para montá-lo, muitas vezes batendo os pezinhos em seus delicados joelhos de elefante de louça. E uma a uma, cada criança da casa fez isso. Uma a uma. Até que todas as crianças passaram. E passaram.
Até que não havia mais criança para acariciar-lhe a tromba encostada à cabeça. E o elefante branco nunca reclamou por lhe tirarem o telefone do dorso -nem por deixarem o telefone lá-, nunca reclamou por esquecerem de limpar a poeira acumulada nos cantos de suas enormes orelhas de elefante branco, nem reclamou por ficar meio escondido atrás da enorme cristaleira de madeira. Em sua sabedoria hindu, o elefante branco sabia que as crianças o amavam, enquanto a cristaleira era amada apenas pelos adultos. Que não sabem amar de verdade.
Mas o tempo passou, a vida passou, as crianças passaram. Só o elefante ficou. Depois de tanto tempo, já não era tão branco (principalmente naquele cantinho da orelha onde esqueciam poeira), já não era tão jovem, já não era tão belo. Em suas aventuras pelas selvas africanas - porque muito embora o elefante seja indiano, toda criança montada em elefante branco desbrava selvas africanas- havia ganhado ferimentos. Aqui e ali, rachaduras. Parte de um dos grandes pés se perdeu, e nenhuma das crianças soube jamais apontar o culpado. E assim, sem parte de pata, rachado, quebrado e ferido, o elefante perdeu seu lugar atrás da grande cristaleira de madeira amada pelos adultos. Porque as crianças cresceram, e a casa passou a ter muitos adultos para amar a cristaleira e nenhuma criança que amasse o elefante.
No dia em que foi levado pra fora e colocado no porão escuro, o elefante branco deixou cair uma lágrima. Uma só, segundo me disseram, mas eu arriscaria dizer que houveram mais, no escuro do porão. O elefante sabia que do porão, ele só sairia para a árvore da frente. E como já sabemos, foi isso mesmo que aconteceu.
E foi nessa parte da história que, já apaixonada pela grande cristaleira de madeira, reencontrei o elefante branco. E lembrei das selvas africanas, e acariciei suas grandes orelhas cheias de poeira. Mais uma vez observei toda a rua, o coração aos pulos. Ninguém passava, e eu abri a porta de casa correndo. Era preciso correr, era preciso salvar o velho elefante branco. E o príncipe indiano que fora seu dono, os tecidos coloridos que o envolviam, as argolas de ouro, os enormes dentes do mais puro marfim, as selvas africanas. E a criança, montada em seu dorso.
Corri pela casa, à procura de meu pai. Era ele o verdadeiro dono do elefante desde que o príncipe indiano lhe fizera presente. Confesso que foi bem mais fácil do que pensei. Acho que meu pai também percebera a criança montada no elefante, mas não acreditara na visão e o abandonara lá, meio à contragosto.
Agora, gritava animado: -"Corre, corre na rua e recolhe o elefante branco! Depressa, depressa antes que alguém o carregue!!!"
Podia ser uma história triste, e então eu chegaria ao portão, e o elefante, a criança e tudo o mais já não estariam mais ali. Provavelmente seria mesmo uma história triste, se eu não tivesse corrido. Mas corri, e o elefante ainda estava lá, ao pé da árvore.
É um elefante pesado, mas naquele instante pareceu bem leve, mesmo com com todos aqueles tecidos e pedras preciosas e com a criança montada em suas costas. Talvez até por causa deles... Já em casa, escalei os degraus da escadinha de madeira que nos leva até o banquinho lá no alto. Sobre o elefante branco, visitei mais uma vez as selavas africanas. Tratei as feridas abertas em seus pés, dei-lhe um banho e limpei até aquele cantinho da orelha, sempre esquecido.
Depois, procuramos um lugar para ele. Provavelmente, o elefante branco pensou que voltaria para trás da cristaleira e estava até feliz com a idéia. Mas não. Encontramos um canto livre e iluminado, bem na metade da escada de mármore. Sobre o elefante, colocamos um vaso de flores. Prímulas e crianças parecem combinar bastante, se estiverem juntas sobre um elefante branco.
Eu não vi. Mas conta-se que o elefante não conteve um largo sorriso, ao passar pela cristaleira. Que amada só pelos adultos, continua sempre e sempre sozinha, na sala escura.